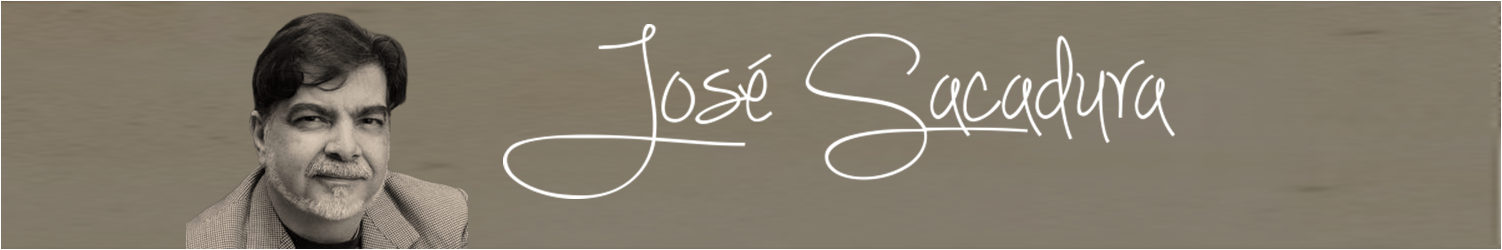Produtivismo e tecnociências (dilemas do movimento ecológico)
I
A
mentalidade burguesa raciocina que o tempo de trabalho social disponível dos
indivíduos promove o consumismo, e este o produtivismo, e estas necessidades o
desenvolvimento tecnocientífico. Na verdade, é mais certo que seja o contrário:
a ânsia de lucros e a acumulação privada move o capitalismo para a produção
irracional e infinita de quantidade de mercadorias: o produtivismo que gera o
consumismo, empurra os indivíduos para as satisfações ilimitadas de mercado,
produz uma imensidão de mercadorias desnecessárias e, destarte as tecnociências
aproveitadas nessa espiral produtivista-consumista, as produz e as faz circular
de forma caótica e com enorme quantidades de desperdício (energético). E neste
processo produz de forma igualmente caótica e desumanizante o sofrimento dos
trabalhadores globais.
No
entanto, é por este processo material ampliado que se produz o tempo de trabalho social disponível,
porque o desenvolvimento das forças produtivas é sempre também um acúmulo de possibilidades qualitativas do fazer.
Colocar em pauta o consumo energético sem reportar a crise de valor no interior
do sistema capitalista, não é considerar o incremento de tempo de trabalho
disponível, porque a crise do valor faz parte da mesma experiência do
capitalismo avançado: a crise do trabalho está na base da dispensação da força
de trabalho que assim não produz riqueza e capital enquanto tal (isto é, sem
força de trabalho não existe a exploração de mais-valor); e, por sua vez, se
agrava, então, a abstração do valor. Neste sentido, a crise energética deve ser
tida mais como a crise da irracionalidade produtiva, com o desperdício de
procedimentos, de um lado, e, de outro, com a compulsão irrecusável do capital
em transformar todo o valor social, coletivo, em ativo mercantil, e na medida
em que produz, induzir também à compulsão pelo consumo dos indivíduos
subsumidos. A tese tecno-otimista segundo a qual as ciências poderão nos
emancipar do trabalho compulsório, vital imediato, não é uma paranoia, mas, em
termos, uma realidade distópica do capitalismo.
Sair
do produtivismo é o caminho para a autonomia dos cidadãos. Entretanto, qualquer
decrescimento deve ser tomado no
sentido de maior racionalidade e inteligência ambiental, e não a estagnação do
desenvolvimento das forças produtivas necessárias ao bem viver das populações –
a qualidade de vida, mesmo a que tem por base a pegada ecológica e ambiental,
depende do desenvolvimento tecnocientífico constante. O decrescimento não “é” um “muro” ao desenvolvimento do capitalismo (AUMERCIER,
2021), mas parte do processo qualitativo ascendente que já se manifesta no
capitalismo e que, mais tarde ou mais cedo, transformar-se-á em outro modo de
produção mais plano, racional e consciente (desalienado dos fetiches das
mercadorias). O decrescimento, neste
sentido, deve focar a tese que existe uma quantidade fenomenal de trabalhos desnecessários e ineficientes
que brutalizam os indivíduos e provocam danos irreversíveis no meio ambiente (SOLÓN,
2019), mas não uma volta zero de
investimento em capital produtivo; a reestruturação do trabalho global pode
economizar, para isso, energia global e produzir melhor para as populações que
não têm acesso a uma existência digna (BASCHET, 2021).
Em muitos casos a solução menos danosa para as populações e para o meio ambiente, é dar autonomia para os grupos étnicos que por sua ancestralidade podem produzir a existência de forma salutar e resgatar sua cultura ancestral. No campo e nas cidades ao redor do mundo uma infinidade de experiências e práticas menos dogmáticas têm possibilitado questionar o capitalismo em seu espiral de desumanização e elevado comunidades a um outro patamar de sustentabilidade e bem viver. Não se trata, a nosso ver, de “tecno-otimismo” ou “eco-otimismo”, mas de uma proposta para a autonomia dos fazeres e dos saberes coletivos que os constituem. A forma burguesa do viver incorre no erro de analisar de forma global o capitalismo em detrimento dos experimentos que o ultrapassam, desprezando os benefícios tecnocientíficos que são devidos aos grupos populares que os financiam – pelos impostos etc. Essencialmente, se todo conhecimento é acumulado socialmente e passado adiante, geração após geração, então fica claro que o investimento privado individualizado em bens de produção é uma expropriação do saber, uma apropriação do “bem coletivo” pelo capital. O capital tem como “ultima ratio” conseguir transformar todo o conhecimento científico social em capital (no caso das tecnociências, em capital fixo), privatizando continuamente para si as tecnociências sociais, coletivas, mais avançadas – inclusive os conhecimentos autônomos dos povos seculares e populações originárias (indígenas, campesinas, quilombolas, ribeirinhos, agricultores familiares). Christophe Aguiton (2019, p. 88) escreve que:
[...] a ‘governança policêntrica’ baseada em desenhos complexos para
gestões complexas em realidades complexas é o que garante a gestão dos comuns.
Ela (Elinor Ostrom) postula que as comunidades são capazes de criar sistemas
sustentáveis com base em consensos sociais. Sob esta perspectiva, predomina a
noção de abundância, em contraposição à escassez, como pilar do paradigma dos
comuns.
A organização comunitária (dos comuns) é para
a dialética materialista e autonomismo a forma mais democrática e mais
eficiente de destinar e administrar recursos além da redução que o regime de
acumulação (privada) impõe sobre o sistema de organização social total. Um dia
o tempo de trabalho social disponível
será tão maior e abrangente que grande parte das atividades dos sujeitos será
dedicada a transformar o mundo caótico da propriedade nas melhores formas de
destinar racionalmente o acesso dos recursos a todos.
Todavia, se faltar energia para o desenvolvimento do capitalismo, faltará para a construção do socialismo (autonomista). Na medida em que se distribui a riqueza social conforme as necessidades materiais de todos e nos emancipamos de grandes quantidades de trabalho compulsório, se a alta produtividade das forças produtivas (inclusive na produção das mesmas) pode acrescer o consumo de recursos energéticos, por outro lado, a alta racionalidade e a objetividade distributiva conforme as necessidades dos indivíduos, em outros patamares além da produção de mercadorias (p.ex., sem acumulação de capital), tende a equilibrar positivamente o consumo de energia para a totalidade social (inclusive na produção das forças produtivas, nas tecnologias e conhecimentos científicos apropriados). As questões do futuro socialista da humanidade não podem ser medidas pela régua do capitalismo, menos ainda obstaculizá-lo conforme a irracionalidade deste.
II
Não
será a “eterna crise de energia” uma forma de perpetuar o regime de acumulação
do capital? A questão não é tão
somente o caos do capitalismo, mas
superá-lo. Não apenas o caos pelo
caos, crise atrás de crise. Raciocinar conforme os predicados e a realidade
sistêmica do capitalismo exige um nível crítico compatível com uma visão de
futuro transformadora. A dinâmica da dialética do capitalismo tenta regular as contradições
próprias de suas bases, e, daí, o desenvolvimento tecnocientífico também tende
a refutar a própria base e os termos em que ele se desenvolve: o avanço das
forças produtivas atendem à máxima produtividade, portanto, igualmente à máxima qualidade na
utilização do ferramental (meios) e dos processos (formas). Isso é algo que o
capital não pode evitar, as demandas sempre superiores em utilidade (valores de
uso servem à dinâmica das trocas (SOHN-RETHEL, 2024) e a qualidade de vida na
existência das sociedades (para as quais foram criadas), potenciais que se não
parecem já estar à nossa disposição é porque o sistema procura de todas as
formas evitar sua repartição equânime, e não por sua carência. Pensar o
capitalismo é pensar nas conformações possíveis que o movem para a sociedade de
amanhã. A qualidade implícita em seu desenvolvimento não é apanágio deste ou
daquele sistema de organização social, mas da força da dialética em suprir
necessidades humanas (KOSIK, 1976).
Não se trata de pensar o socialismo
autonomista como superação automática ou natural do capitalismo, mas dos vetores tendenciais dos quais os
mecanismos do capital não podem se subtrair sem que ultrapasse os estreitos
limites da produção e distribuição burguesas. Ou dito de outra forma, a ação
dos agentes sociais, dos trabalhadores assalariados do capital, o ativismo mais
ou menos militante de jovens e intelectuais comprometidos com o progressismo,
os excluídos e não identificados pelo sistema, as ocupações e as existências
associativas, são as peças que movem os fazeres mais ou menos organizados, mais
ou menos espontâneos, disruptivos e de enfrentamento ativo contra as mazelas e
as desumanizações do capitalismo. As nossas respostas não são, obviamente,
apenas estruturais, mas uma constelação de saberes e fazeres imbricados entre
si e por dentro daqueles “vórtices espiralados” tendenciais das condições
intrínsecas de movimento do próprio capital. Repetindo John Holloway (2011, p.
278, trad. nossa):
As contradições
são enormes, tanto as de cunho fenomenológico como as político-econômicas. As
crises do capital são fissuras importantes, elas se constituem como
parte do próprio capital em seu espiral “autofágico”. Mas isto se deve mais a
seu desenvolvimento e não a seu
colapso (TRENKLE, 2018); o paradigma da limitação estrutural das energias
requeridas, consideradas finitas diante da infinitude e inquietude
produtivista-consumista do regime do capital, a reprodução infinita das
mercadorias não parece que vai ser refreada, apesar do alto custo ecológico e
violência que promovem. Como se vê atualmente na necessidade de minerais
(terras raras) para compor as matérias primas da indústria mais avançada de
semicondutores eletrônicos, em espaçonaves, armas, drones e carros elétricos,
entre outros.
A produção de mercadorias continua, claro, a ser a necessidade de recomposição no nível profundo do capital e seu regime de acumulação. A produção do valor é a recomposição a partir da qual o capital se regula e ao mesmo tempo acumula. Mas existe algo novo nas sociedades produtivas avançadas: isso não exige mais todo o potencial da quantidade de tempo de trabalho, da utilização massiva compulsória de força de trabalho. É verdade que o sistema aprofunda sempre mais o esgotamento da produção do valor e do dinheiro tendo por base a economia real. Nisso, as crises mais atuais são sintomas da autofagia do capital que para continuar inunda o mercado de crédito e o reproduz como valor fictício, enquanto que precisamente o volume de salários diminui e com isso o poder aquisitivo das famílias (INVESTING, 2024).
III
O Ecossocialismo enfatiza o
decrescimento alegando que esta é a única forma de nos salvarmos da catástrofe
a que nos leva o capitalismo; o decrescimento é a alternativa apresentada com
mais ênfase. Mas, o decrescimento, e também o não-extrativismo, (ACOSTA; BRAND,
2018) não podem ser colocados, em absoluto, como enfrentamento do capitalismo
quando isso significa frear o avanço das forças produtivas. Algumas
correntes democráticas pecam nisto (LÖWY, 2025): o que queremos combater é a
forma (mercadoria) pela qual as forças produtivas são colocadas a serviço da
exploração do trabalho social em favor da produção de capital e sua acumulação
privada – não as forças produtivas em si mesmas. Socialismo não é pobreza, ele
depende de liberdade e desenvolvimento nas realizações e conhecimento
tecnocientífico de todas as gerações anteriores. Desde tempos imemoriais
lutamos pelo fim do trabalho compulsório que nos submete. O socialismo
resulta mais desta conquista do que o contrário. A dialética é qualitativa, ela
pertence à história!
A autonomia frente ao Estado e a
autogestão dos indivíduos livres organizados e cooperados resolvem melhor estas
questões, como a ocupação da italiana GKN pelos trabalhadores (SMITH; EDWARDS; DEY, 2024), e neste ponto não é possível aceitar sem restrições a proposta
de Kohei Saito (2023) de “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)” das
Nações Unidas, ou o “Desenvolvimento Econômico Sustentável” preconizado pelo
Banco Mundial, e mesmo o “Green New Deal” de Joseph Stieglitz (2020)
sustentado pela esquerda norte-americana: eles recolocam enfaticamente o
formalismo oficial, a hierarquia especializada e a agência estatal no centro de
tais programas.
Se o levante e autogestão populares
parecem, por vezes, não resolver, não é por falta de poder, querer tomar o
poder para planejar a sustentabilidade racional ambiental, mas porque o
monopólio da ciência e tecnologia está oficialmente concentrado nas classes
dominantes. Quem explora a natureza é o capitalismo, não o homem. É mais sensato usar a tecnologia contra os
poderes que determinam nossas vidas, alargando sua utilização, do que
simplesmente provocar decrescimento ou correr o risco de eliminar atividades
extrativistas, tradicionais e familiares, que podem trazer penúria e sofrimento
às camadas populares.
É claro que temos que romper com o
capitalismo e seu “modo de vida imperial”, mas a alternativa do decrescimento
leva quase que inexorável à estatização dos meios e das formas de fazer
ecologia. Segundo Löwy (2025), a saída parece ser “passar da quantidade –
sobretudo de mercadorias, crescimento do PIB – para a qualidade: aumentar o
tempo livre e a proteção social”. O nó górdio desta equação que não fecha, é
que 1) a qualidade implica em desenvolvimento de forças produtivas; 2)
isto implica, por sua vez, no aumento do PIB, para financiar os
investimentos em tecnologia e ciência; 3) o aumento do tempo livre
depende, então, do desenvolvimento das forças produtivas e, também, do aumento
do PIB, e isto é certo, pois combina com a alteração na composição orgânica do
capital (MARX, 2015) que “libera” a força de trabalho (mais capital fixo, menos
mão de obra); 4) por sua vez, a disponibilidade de recursos a serem distribuídos
para sustentar a ociosidade (o tempo livre) anda a par com a proteção social,
e portanto, mais custos sociais, que só podem ser conseguidos pelo aumento do
PIB. E assim entramos em um ciclo que obviamente o capitalismo não tem
disposição alguma para financiar: nem o Estado nem o capitalista da “Faria
Lima”.
Em uma palavra, o tempo livre e a
proteção social têm que ser financiados – em nenhum modelo econômico-social,
presente ou futuro, pode-se abdicar de aumento de PIB (e é isto que luta contra
o decrescimento); mas pode-se racionalizar a produção e planejar o mercado
inserindo modelos inteligentes e sustentáveis ecologicamente, sem desperdício e
sem trabalhos desgastantes e desnecessários, aumentar o tempo livre, e cada vez
mais isso é possível com modernas ferramentas digitais, algoritmos e
cibernética (algoritmos poderosos com IA).
Só na realidade não mercantil, em termos, se pode razoavelmente falar que a qualidade de vida não depende das quantidades: no capitalismo a dependência é na ordem do PIB (produtivismo/ consumismo) – por isso a “revolução” parece ser lógica contra o aumento do PIB -; no socialismo a quantidade é na ordem de distribuição equitativa segundo as necessidades de cada um. A fórmula do “capital zero” - menos investimento em tecnociências, p.ex., em capital fixo, na planta da fábrica (4.0), ou nos aplicativos de serviços (apps) -, pode criar crises no capitalismo, com mais sofrimento para as populações pobres, nunca para o capital. Marx ((1857)1983, p. 233) com perspicácia afirmou:
Uma sociedade jamais desaparece antes que estejam desenvolvidas todas as forças produtivas que possa conter, e as relações de produção novas e superiores não tomam jamais seu lugar antes que as condições materiais de existência dessas relações tenham sido incubadas no próprio seio da velha sociedade. Eis por que a humanidade não se propõe nunca senão os problemas que ela pode resolver, pois, aprofundando a análise, ver-se-á sempre que o próprio problema só se apresenta quando as condições materiais para resolvê-lo existem ou estão em vias de existir.
IV
A regulação das crises é papel que
beneficia o capitalismo e a acumulação do capital (investe mais ou menos,
produz mais ou menos, emprega mais ou menos, acumula mais ou menos etc.). Mas o
investimento no desenvolvimento das forças produtivas “libera” a força de
trabalho da propriedade do capital (fatalmente, o desemprego), destrói as
relações sociais produtivas e gerais mercantilizadas, e cria outras. O
investimento no modo de produção capitalista é alimentado pela concorrência, e
pela necessidade de diminuir custos com mão de obra a aumentar a taxa de
exploração dos trabalhadores empregados. Aqui, a “ecologia do decrescimento” é
diretamente o ser humano!
Contudo, tudo isso não significa abandonar
as pautas ecológicas ou de urgência climáticas, mas redirecionar o
desenvolvimento tecnológico para práticas sustentáveis, precisamente aquilo que
o tempo social de trabalho disponível (tempo livre) potencializa e o que
a consciência do valor de uso resgata: as práticas anticapitalistas são hoje
fortemente pautadas pelas comunidades, pelo cooperativismo, pela população mais
jovem sem emprego ou que não nutre expectativas de realização naqueles
oferecidos pelo mercado. Isto prepara um novo tempo. Porque o capitalismo não
pode deixar de investir – e não vai fazê-lo!
Quem procurar pegada zero ou depreciação total dos investimentos, ainda no âmbito do capitalismo, será engolido pelo monopólio que lhe responde; fora dele, no cooperativismo comunitário autônomo se prepara a economia planejada e avançada do socialismo, e é possível racionalizar a produção material de forma sustentável e atender às necessidades humanas de Bem Viver, onde, inclusive, as tecnociências podem emprestar maior eficiência produtiva e distributiva.
Referências
Acosta, Alberto & Brand, Ulrich. Pós-extrativismo e decrescimento: saídas do labirinto capitalista.
São Paulo: Elefante, 2018.
Aguiton, Christophe. Os bens comuns. In: Alternativas sistêmicas.
São Paulo: Elefante, 2019.
Aumercier, Sandrine. O muro da energia do capital: contribuição para o
problema dos critérios de superação do capitalismo na perspectiva da crítica
das tecnologias. In: viruseditorial.net, 2021.
Baschet, Jérôme. Adeus ao
capitalismo: autonomia, sociedade do bem viver e multiplicidade dos mundos.
São Paulo: Autonomia Literária; GLAC edições, 2021.
Holloway, John. Agrietar el
capitalismo: El hacer contra el trabajo, Buenos Aires: Ediciones
Herramienta, 2011.
Investing.Com. Megacrash: nível alarmante de dívida pública mundial
pode causar crise sem precedentes. In: msn.com, Lacalle,
2024.
Kosik, Karel. Dialética do
concreto. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.
Löwy, Michael. Na escola ecomarxista. In: aterraeredonda.com.br, 2025.
Marx, Karl. Contribuição à crítica da economia política. In:
Florestan Fernandes (org.), Marx & Engels, história. Col. Grandes
cientista sociais, n. 36. São Paulo: Editora Ática, 1983.
Marx, Karl. O Capital. 1ª
Ed. Rev. - São Paulo: Boitempo, 2015.
Smith, Dave; Edwards, Tracy & Dey, Shaun. Trabalhadores italianos
fazem ocupações contra a crise climática. Trad. Pedro Silva. In: Jacobin.com.br, 2024.
Solón, Pablo (org.). Alternativas sistêmicas: Bem Viver,
decrescimento, comuns, ecofeminismo, direitos da Mãe Terra e desglobalização.
São Paulo: Elefante, 2019.
Sohn-Rethel, Alfred. Trabalho
intelectual e trabalho manual. São Paulo: Boitempo, 2024.
Stieglitz, Joseph. Povo, poder e lucro: Capitalismo progressista para uma
era de descontentamento. Rio de Janeiro: Editora Record, 2020.
Trenkle, Norbert. Anti-política em tempos de fúria homicida capitalista. Trad. de Javier
Blank. In: Krisis.org,
2018.
___________________________________________________________________________________
POSTAGENS RELACIONADAS